MAURO DA SILVA Colunista de Variedade
A A |
Cálculo, Capital e Ciência: os nexos reveladoresEm colagem de citações, cenas de uma evolução histórico-filosófica. Como moeda e mensuração, marcas da modernidade, repercutiram no pensamento e produção científica. Por que o neoliberalismo é o ápice desta relação. O que virá a seguir? Título original: Capitalismo e ciência moderna: uma colagem de citações Este trabalho não constitui um artigo, mas sim uma colagem de citações (sendo algumas autocitações), entremeadas com um texto cujo objetivo é explicitar a linha de pensamento que as ordena. O tema central, no plano mais abstrato é o par conceitual qualidade/quantidade. No mais concreto, trata-se de um estudo histórico sobre o processo de quantificação, presente tanto no capitalismo quanto na ciência moderna, impulsionado em ambos pelo uso do dinheiro, enquanto uma entidade essencialmente quantitativa. O capitalismo e a ciência moderna constituem, na modernidade, forças quantificadoras das sociedades e do autoentendimento das sociedades. A seção 1 é um prolegômeno em que se definem os conceitos de quantificação, mensuração e matematização, os quais desempenham papéis centrais ao longo do trabalho. (Em vez de ‘mensuração’, usarei, ocasionalmente, ‘medição’, como sinônimo). As demais seções têm a forma de um recorte, uma sequência de períodos ou momentos históricos, como fotogramas de um filme, a saber, grosso modo:
Sumário
1. Quantificação, mensuração e matematização A definição dos três conceitos se faz por meio de uma autocitação, proveniente do livro A mercantilização da ciência (Oliveira, 2023; daqui por diante designado por MzC).
2. A quantificação da física pré-moderna Isso posto, o ponto de partida é a seguinte passagem de Marshall Clagett:
3. Internalismo e externalismo na história da quantificação Como explicar esse impulso quantificador do século XIV? Quais foram as circunstâncias históricas que levaram a seu surgimento? A resposta defendida a seguir provém de dois escritos do medievalista Joel Kaye: o artigo “The impact of money on the development or fourteenth-century scientific thought” (Kaye, 1988), e o livro Economy and nature in the fourteenth century: money, market exchange and the emergence of scientific thought (Kaye, 2004). Segundo o autor, nos estudos históricos do movimento quantificador a que Clagett se refere, prevalece uma visão internalista, que busca explicá-lo situando-o na tradição do pensamento filosófico. Embora não excluindo esse aspecto como parte da explicação, Kaye trata do movimento também de uma perspectiva externalista, trazendo à tona características econômicas e sociais da época enquanto fatores que favoreceram seu surgimento. Entre tais fatores, o mais significativo é o que diz respeito ao dinheiro, e aí se encontra a conexão do capitalismo com a ciência moderna, em suas origens. Expondo o objetivo central da obra, diz o autor.
4. A monetização da sociedade europeia
5. Entram em cena os escolásticos A grande e crescente presença do dinheiro na vida social despertou o interesse dos escolásticos, tanto como elemento de seus estudos sobre a sociedade, quanto pelo envolvimento concreto em transações monetárias. Descrevendo esse envolvimento, diz nosso autor:
É curioso como essa descrição, com os devidos ajustes, vale também para os estudantes universitários nos dias de hoje. O mesmo pode ser dito a respeito dos professores em suas atividades administrativas, como se lê nesta passagem:
A experiência da vida nessas sociedades monetizadas gerou o interesse dos escolásticos pela vida econômica, particularmente o dinheiro, como se constata pelos escritos que deixaram sobre o tema. Como eles se dedicavam também à Filosofia da Natureza, isso permitia que houvesse influências mútuas entre os dois domínios do conhecimento. Tais escritos consistiam em comentários sobre as ideias econômicas de Aristóteles que, por um lado as incorporavam, por outro desviavam-se delas, abrindo o caminho para a visão de mundo própria da modernidade. Entre os comentários mais destacados, encontram-se os de Alberto Magno (1193-1280), Tomás de Aquino (1225-1274) e Nicole Oresme (1323-1382). (MzC, p. 225) 6. O dinheiro como medida de todas as coisas Uma concepção de Aristóteles não somente adotada, mas também desenvolvida pelos escolásticos é a que identifica três funções do dinheiro: ser meio de troca, medida do valor e reserva de valor. No presente contexto, a mais importante é a da medida do valor, e especialmente a proposição de que o dinheiro é a medida de todas as coisas (ou, mais precisamente, de tudo o que pode ser objeto de troca). O desenvolvimento introduzido pelos escolásticos foi a ampliação implícita da categoria de coisas que podem ser trocadas. 7. O dinheiro mede qualidades
8. As contribuições do Merton College e da Universidade de Paris No que se refere à Filosofia Natural, os pensadores que contribuíram mais decisivamente para o movimento de quantificação foram os filiados ao Merton College, da Universidade de Oxford, e depois os da Universidade de Paris. Citando Kaye mais uma vez:
Entre os escolásticos da Universidade de Paris, o mais destacado no que se refere à matematização da Física foi Nicole Oresme (c. 1323-1382). Do ponto de vista da história dessa tradição no pensamento escolástico, o pioneiro foi Pierre Duhem. Como diz Sylla em “Medieval quantification of qualities: the “Merton School” ”,
A relação desse movimento com o dinheiro é bem explicada nesta outra passagem:
9. Tomás de Aquino e a troca justa As reflexões dos escolásticos são extremamente abstratas, logicamente muito sofisticadas e intrincadas. Uma exposição sobre seu desenvolvimento extrapola os limites deste trabalho. Vou apenas mencionar um conceito fundamental no debate, o de latitude das qualidades (latitudo qualitatum), ou das formas (latitudo formarum). A origem do conceito encontra-se nas ideias de Tomás de Aquino a respeito do preço justo. A partir dessa origem o conceito foi se transformando e:
Para substanciar suas teses referentes ao papel do dinheiro na matematização do conhecimento da natureza, além de proposições gerais, Kaye expõe e discute passagens de determinados autores. Como exemplos, vale a pena registrar duas delas. Referindo-se a um texto de Henry de Ghent [1217-1293], diz Kaye
O segundo comentário refere-se a Jean Buridan (1300-1358), e impressiona pela sofisticação da análise desenvolvida.
10. A inexistência de medições Um aspecto da maior importância no trabalho dos Calculadores é a ausência de medições. Como diz Anneliese Maier:
Tendo em mente a distinção entre quantificações e mensurações exposta na seção 1, pode-se dizer que os escolásticos tudo quantificavam, mas nada mediam. A passagem de uma etapa à outra só veio a se realizar quase dois séculos depois, pelos fundadores da ciência moderna, com destaque para Galileu, Kepler e Descartes. A tarefa de executar mensurações nada tem de simples, ou óbvio; pelo contrário, além de conhecimento teórico exige do investigador grande dose de engenhosidade, de capacidade de inventar expedientes para resolver problema práticos, atributos dos quais Galileu era notavelmente dotado (Mariconda & Vasconcelos, 2020, p. 337). À guisa de ilustração, relaciono a seguir vários episódios das atividades de Galileu voltadas para a mensuração. 11. As mensurações de Galileu Em 1586 Galileu inventa uma balança hidrostática, cuja função é medir o peso específico de corpos. Ele a denominou a “balancinha” (bilancetta). Nos anos seguintes, projetou e produziu para a venda o “compasso geométrico-militar”, que não era propriamente um instrumento de medição: não servia para medir, mas para facilitar os cálculos baseados nos resultados de medições, tendo em vista a solução de problemas práticos. O sucesso comercial do empreendimento atesta a eficácia do aparelho. As contribuições mais notáveis de Galileu para a matematização da física foram fruto de suas investigações sobre a queda dos corpos, o plano inclinado e o pêndulo, nas quais a medição de curtos períodos desempenha um papel essencial. O expediente inventado por ele envolvia um balde cheio de água, com um pequeno orifício no fundo, e tinha como pressuposto a proporcionalidade entre a duração dos períodos de tempo e a quantidade de água escoada nos respectivos períodos, medida por meio de uma balança. Além desses expedientes,
12. A matemática de Galileu
Nos dias de hoje, pode causar estranheza que Galileu relacione como caracteres do livro da natureza “triângulos, círculos e outras figuras geométricas”, e não números, associados mais essencialmente à visão quantitativa da realidade. O que há de geométrico, p. ex., na mensuração da temperatura? A explicação encontra-se em Mariconda & Vasconcelos:
13. O utilitarismo como força quantificadora; as ideias de Bentham O programa matematizador de Galileu, Kepler e Descartes, como se sabe, foi extraordinariamente bem sucedido, particularmente na esteira da obra de Newton. A abordagem matemática foi gradativamente se estendendo, da Física para a Química, a Biologia, Geologia, etc., e depois, no campo das ciências humanas, para a Sociologia e a Psicologia. Por outro lado, é bom lembrar que a Astronomia já era matemática desde o início na Antiguidade. A Economia já nasce marcada pelo quantitativo, dada a centralidade do dinheiro, mas sua quantificação recebe um significativo avanço proveniente do Utilitarismo de J. Bentham, que merece uma menção, dada a influência que teve sobre a Economia Política. O cerne do utilitarismo benthamiano, tal como exposto em Uma introdução aos princípios da moral e da legislação (Bentham [1789] 1979) pode ser analisado em três momentos lógicos: redução, quantificação, e maximização. Redução: o utilitarismo reduz todos os sentimentos, emoções e valores humanos a uma única dimensão, a da polaridade felicidade/infelicidade, ou prazer/dor. Em suas palavras:
Quantificação: O capítulo IV do livro em pauta tem por título “Método para medir uma soma de prazer ou de dor”. Cada prazer ou dor tem um valor, medido de acordo com um determinado método. O núcleo do método é descrito da seguinte maneira: Para uma pessoa considerada em si mesma, o valor de um prazer ou de uma dor, considerado em si mesmo, será maior ou menor, segundo as quatro circunstâncias que se seguem:
Maximização: O termo “utilidade”, do qual deriva o nome da doutrina, figura na expressão “princípio da utilidade”, sendo tal princípio apresentado por Bentham como o fundamento da doutrina. Seu enunciado é o seguinte:
Tempos depois da publicação do livro, Bentham passou a usar “máxima felicidade” (“greatest happiness or greatest felicity principle”) no lugar de “utilidade” – com isso deixando mais evidente o caráter maximizador do princípio. Este, por sua vez, reflete-se no nome dado por ele ao método para se obter a maximização da utilidade, a saber, Cálculo Hedonístico (Felicific Calculus) que ‒ para usar um conceito muito em voga nos dias de hoje ‒ constitui um algoritmo. Há uma semelhança entre as concepções de Bentham e as ideias dos escolásticos, de medir entes como a força da caridade cristã, o amor humano, o amor de Cristo etc. O empreendimento que realizaram foi o de uma quantificação, formulada em termos tão abstratos que não se vê como poderiam ser colocadas em prática, chegando assim à mensuração. No caso de Bentham, essa deficiência não impediu que tivesse uma enorme influência, enquanto pai do Utilitarismo. 14. Marx contra Bentham Como se sabe, Marx foi um ferrenho crítico de Bentham. No estilo agressivo-humorístico em que era mestre, diz ele: “Mas o preconceito só foi fixado em dogma pelo arquifilisteu Jeremy Bentham, o oráculo insipidamente pedante e fanfarrão do senso comum burguês do século XIX.” (Marx, Capital I, p. 684) e: “E foi com todo esse lixo que nosso homem, cuja divisa é nulla dies sine linea, encheu montanhas de livros. Tivesse eu a coragem de meu amigo H. Heine, chamaria o senhor Jeremy de gênio da arte da estupidez burguesa.” (Ibid, p. 685, nota de rodapé 63) Essa diatribe é muito citada ou mencionada, com admiração, pelos fãs de Marx. Vale a pena notar que, n’A ideologia alemã, (p. 448 ss.), Marx e Engels expõem uma crítica bem educada, e pertinente, do utilitarismo de Bentham. Mas essa crítica, a meu ver, não explica nem justifica os termos abusivos usados por Marx n’O Capital. Digo isso porque Bentham, além de filósofo, era um ativista, um reformador social, empenhado na defesa de políticas progressistas, avançadíssimas para seu tempo, incluindo:
Fica a pergunta: como explicar a bronca contra Bentham que Marx expressa nessas passagens d’O Capital? Como a diferença de posições em relação ao utilitarismo por si só não a explica, que razões podem ter existido? 15. O triunfo da matematização: o lema de Lord Kelvin Passando agora do fim do século XVIII para o do século XIX, na sumaríssima história da quantificação e mensuração que estou expondo, não pode ficar de fora a citação a seguir. Ela demonstra o enorme sucesso do projeto de mensuração que marcou o nascimento da ciência moderna.
16. A cientometria Esta seção versa sobre o episódio em que a ciência volta-se a si própria, tomando-se como objeto de investigação, a ser empreendida por uma disciplina. Sendo a ciência moderna quantitativa, e sendo adotado o dogma de Lord Kelvin, segue-se que a nova disciplina deve ser quantitativa. O autor usualmente considerado seu fundador foi o físico e historiador da ciência e da tecnologia inglês Derek de Solla Price (1922-1983). O termo scientometrics, entretanto, foi cunhado pelo pensador russo Vasily Nalimov (1910-1997), que chegou a ideias semelhantes às de Price de forma independente. Foi introduzido como tradução do russo naukometriya, título da monografia Nalimov & Mul’chenko (1969). Durante o período inicial, usou-se também o termo science of science para designar a nova disciplina. Com o lançamento da revista Scientometrics, em 1969, entretanto, esse termo passou a preponderar (contrariando Price, que preferia science of science). O título do primeiro capítulo de Little science, big science é “Prologue to a science of science”. No prefácio, o autor pergunta: “Porque não aplicar as ferramentas da ciência à própria ciência? Porque não medir e generalizar, formular hipóteses, e derivar conclusões?” (Price,1963, p. v). Nesta seção trataremos apenas da contribuição de Price. A história de como ele chegou a suas ideias no campo da cientometria é curiosa. Em suas palavras:
Si non è vero, è bene trovato. Animado com sua descoberta, Price a apresentou no VI Congresso Internacional de História da Ciência, realizado em Amsterdam em 1950, mas a exposição e o texto publicado (Price, 1951) caíram no vazio. Desmotivado pela falta de interesse dos historiadores da ciência Price só retorna ao tema quase dez anos depois (já nos Estados Unidos, onde havia se radicado em 1957). Os frutos da retomada foram expostos na quinta e última conferência de um ciclo ministrado na Universidade de Yale em 1959. Dessa vez a repercussão foi bem animadora, sendo as conferências publicadas como um livro, Science since Babylon (Price, 1961; 1975). Avançando na realização de estudos cientométricos, o passo seguinte foi a publicação de Little science, big science, que veio a ser considerado o marco do nascimento da cientometria (Price, 1963; 1986). 17. Crescimento exponencial da ciência: evidências e implicações No primeiro capítulo do livro mencionado, encontra-se uma passagem que dá uma boa ideia do desenvolvimento das investigações do autor que vieram na esteira do insight com as Philosophical Transactions:
A rapidez do crescimento exponencial de uma grandeza é função de uma constante. A maneira mais intuitiva de expressá-la é a que especifica o período de tempo necessário para que a grandeza dobre de tamanho. Dependendo do aspecto considerado, a constante de duplicação estimada por Price para a ciência variava entre 10 e 15 anos. Para ilustrar a rapidez avassaladora do crescimento da ciência, sendo essa a dimensão da constante, nosso autor vale-se de alguns exemplos. Um deles, muito citado, refere-se ao número de cientistas. Segundo seus cálculos aproximados, entre todos os cientistas que existem, e já existiram, de 80% a 90% estão vivos a cada momento. “Podemos sentir falta de Newton e Aristóteles, mas felizmente a maioria dos cientistas ainda está conosco!” (Price, 1975, p. 176). Outro exemplo diz respeito ao número de revistas:
Entre as implicações da lei do crescimento exponencial da ciência, a mais importante, a que tem consequências práticas mais sérias, é o reconhecimento da impossibilidade de que tal ritmo de crescimento seja mantido indefinidamente. No que se refere ao número de cientistas, p. ex., para manter o crescimento exponencial, num período de tempo não muito longo, todos os seres humanos precisariam tornar-se cientistas. A conclusão é a de que tal ritmo de crescimento deveria diminuir e, como se pode imaginar, tal redução acarreta problemas sérios para a comunidad e científica – como o desemprego dos recém-doutores, que não encontram mais vagas para ingresso na carreira acadêmica. Desde o início, Price esteve ciente do caráter insustentável do crescimento exponencial ilimitado, e não se furtou a prescrever medidas no campo das políticas científicas no sentido de administrar da melhor forma possível o ajuste que se fazia necessário.[7] 18. Neoliberalismo e quantificação Na introdução acima foi dito que esta colagem consiste num “estudo histórico sobre o processo de quantificação, presente tanto no capitalismo quanto na ciência moderna, impulsionado em ambos pelo uso do dinheiro, enquanto uma entidade essencialmente quantitativa.” O capitalismo e a ciência moderna constituem, na modernidade, forças quantificadoras – mutuamente reforçadoras – das sociedades e do autoentendimento das sociedades. O neoliberalismo pode ser caracterizado como a fase do capitalismo em que seus princípios são radicalizados, exacerbando a tendência em transformar tudo em mercadoria, com base no dogma da excelência do mercado como princípio regulador da vida econômica e social das sociedades. Nesse processo, intensifica-se também a força quantificadora do capitalismo. David Harvey é um dos mais detacados analistas do neoliberalismo. Em A brief history of neoliberalism ele o caracteriza assim:
Um bom quadro do impacto do neoliberalismo sobre os indivíduos é esboçado é esboçado por Dardot e Laval em A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal.
Notas[1] Em “Marx discípulo de Aristóteles” (MzC, p. 225, nota 33), menciono o epíteto “o último dos escolásticos”, atribuído a Marx pelo historiador da Economia Richard Tawney (1948, p. 36). O epíteto se justifica pelos elementos do pensamento de Aristóteles compartilhados por Marx e pelos escolásticos. Mas também há divergências, uma vez que, distinguindo esfera da produção e a da circulação ou seja, do comércio, Marx restringe a criação de valor à esfera da produção. (Cf. “Nota sobre o conceito marxista de Modo de Produção” (Oliveira, 2024). [2] É possível que Marx tenha se inspirado nessa passagem ao escrever: “Assim, coisas que em si mesmas não são mercadorias, como a consciência, a honra etc. podem ser compradas de seus possuidores com dinheiro e, mediante seu preço, assumir a forma-mercadoria”. (Marx ([1867] 2013) (O Capital, Livro I) p. 177) [3]. O empenho de Galileu em realizar medições deu origem a uma dessas citações que muitos autores repetem, sem que nenhum indique a fonte. Ao que tudo indica, a atribuição não é verídica. A frase é “Meça o que é mensurável, e torne mensurável o que não o é” (Kleinert, 2009). [4] A tradução transcrita é de Mariconda & Vasconcelos (2020, p. 148). [5] O verbete “Jeremy Bentham”, da Wikipedia, registra as fontes que abonam essa atribuição de posições a Bentham. (Acesso em 8/12/2023) [6] Segundo estimativas recentes, (Larsen & von Ins, 2010; Bornman & Mutz, 2015) o período de duplicação do número de publicações nessa época foi cerca de 9 anos. [7] Em outros artigos, tratei de um outro aspecto da quantificação da ciência, a saber, o que diz respeito à administração das atividades de pesquisa. Meus estudos me levaram à interpretação segundo a qual nas últimas décadas a administração foi objeto de processos de empresariamento, entendidos como os que introduzem princípios e métodos próprios de empresas privadas na administração da Academia. Uma das facetas desses processos é a atribuição de um papel central às avaliações quantitativas, tanto na Academia quanto em órgão públicos e, pioneiramente, nas empresas privadas. (Cf. MzC, cap. 9) [8] Uma manifestação formal desse empresariamento do indivíduo, aqui no Brasil, é o processo de “pejotização” a que são forçadas muitas categorias de trabalhadores ‒ entre os quais a daqueles que adotam o empreendedorismo como estratégia de vida. | A A |
| OUTRAS PALAVRAS |
Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |
A A |
O Agente Secreto: Nadando em um mar de tubarõesUm rolê pelas ruas, cores, sonhos, pesadelos, caras e corpos, vivos e mortos, do filme-marco do cinema nacional, no embalo de suas canções. O convite é claro: evocar o passado aos pedaços, como uma perna arrancada. E mostrar que a ditadura não é monopólio dos milicos: está no ar, como o cheiro de carniça Contém spoiler, porque comentário de filme que não contém spoiler é release. Pra quem ainda não viu o filme: veja. E tenham suas próprias opiniões. A seguir, vão as minhas. Se você preferir, ao contrário do Groucho Marx, não tenho outras. Por enquanto. A primeira coisa a considerar é o óbvio: O Agente Secreto é um filme, como diria o Buscapé, de Cidade de Deus, legal pra caramba. É bom, bem bom, de ver, ouvir, e quase tocar. O Fusca amarelo é bacana demais, o calor é palpável nas cores quentes do filme e dá vontade de desabotoar a camisa como o motorista — Wagner Moura mais charmoso que Belmondo. A viatura, uma Brasília caindo aos pedaços que logo encosta, ameaçadora, não fica pra trás. E eu quero carona no Corcel branco que atravessa carnavalescamente aquele posto Esso avançado do subdesenvolvimento em 1977, entre um mar de cana pré-pró-álcool, com o tempo suspenso entre um cadáver apodrecendo ao sol e policiais (caricatamente) mal-encarados. O cheiro não é bom, mas cinema não tem cheiro, só a ideia do cheiro, então é bom. Ok, tá lá o corpo estendido no chão, os cachorros são os únicos interessados na carniça esquecida por Deus e na nossa humana condição de ser-para-morte a gravidade daquela presença não pode nos deixar indiferentes. Mas Heidegger não se cria em Pernambuco. E o espetacularmente barrigudo frentista tem preocupações de um ser-aí mais aqui: o colega ocasionalmente matador, o Ivanildo, fugiu do flagrante, e aproveitando o ensejo e o sacolejo, sumiu num bloco de carnaval. O dilema agora é entre o desemprego e a carniça, enquanto a polícia não vem. Aí ela vem, mas é pra achacar o moço do Fusca — eu já falei como o Wagner Moura está gato em sua versão retrô? —, e o Arquétipo do Policial Corrupto nos deixa na corda bamba: é pra ter medo de morrer ou pra oferecer um cigarrinho? Resposta certa: oferecer um cigarrinho. Se isso não é uma abertura sensacional, com direito a um letreiro e uma grua que reforçam o gosto de road movie dos anos 70, mas virado do avesso brasileiro, qual outra você lembra que seja tão legal e tão do caramba? O fim da viagem de Fusca é embalado pelas duas primeiras músicas de uma trilha não menos que antológica. Primeiro, Harpa dos Ares, espécie de recriação de Estudo no.2 de Villa Lobos, no espírito do mítico — tanto no sentido de busca espiritual como no de obra plena de conteúdos simbólicos — Peabiru, álbum de Zé Ramalho e Lula Cortês, experimental, cheio de misturas, psicodelia, referências indígenas, afros e nordestinas, incluindo imitação de pássaros e uma flauta hippie (https://open.spotify.com/intl-pt/track/6gQYDDGYsHYaot8ezTvmFD?si=ded704c684c946ae). Dessa antropofagia de alta voltagem, o dial de 1977 desliza para If you leave now, sucesso chiclete-global, campeão das festinhas de garagem daquela década pelo mundo afora (essa não precisa link, porque todo mundo conhece). Em Recife, chegamos ao quase paradisíaco Edifício Orf, o refúgio perfeito. Predinho baixo, protegido dos males do mundo, com bandinha de carnaval, cerveja gelada e sorriso de boas-vindas, jardim com árvore e terra batida. Quase uma Ilha da Fantasia nordestina, com a mais simpática, popular e esperta das anfitriãs: D. Sebastiana, que oferece ao viajante um apartamento térreo, ensolarado e decorado com total aconchego e bom gosto simples e elegante, além de lhe providenciar algum dinheiro e um encaminhamento para um trabalho. Coroando a acolhida de Marcelo — é esse o nome dele (por enquanto) —, a matriarca daquela comunidade quase arembépica, com ares de resistência dissidente à Ditadura, não se aperreia em apresentar e cupidar, lépida e carinhosamente erótica, a vizinha Cláudia. O sorriso de Hermila Guedes equilibra as energias de sedução em seus polos cis hétero nem tão normativos, numa leveza livre, sem perguntas ou enredos para além da imediata atração, com o encontro (também) sexual de Marcelo e Cláudia, tempos depois, completando lindamente o já belíssimo quadro da vida do Edifício Orf. Nem a Rua dos Artistas de Aldir Blanc faria melhor. Mas tem um lado B. Chegado, instalado, apresentado, banho tomado, Marcelo senta-se na nova sala, abre uma caixa, com fotos de uma mulher, feliz, sorridente, olhando pra câmera, ou seja, pra ele, desde algum lugar do passado. E faz então um ritual daquelas longínquas eras pré-históricas: põe um LP no toca-discos. Ele imóvel, encarando a mulher nas fotos, a música de Sósthenes Pereira Barreto entra rasgando, alta, dilacerante em sua levada irresistível, como quem corre com a namorada pela praia, sentindo o vento. (https://open.spotify.com/intl-pt/track/4P8ZOB09V1PhhRQBC5MbXj?si=ae766d3fcf3e4f3c) Arranjei uma casa na beira do mar, lalaliáááá Tem coqueiro e uma rede pra gente armar, lalaliáááá E depois, o amor… Se nesse momento você não está se segurando pra não sabe o que, se ficar de pé na cadeira do cinema e gritar, ou se enroscar no chão em posição fetal, lembrando de um amor que parecia morto e revive, da energia da juventude, que estava aqui agora mesmo, da esperança, de abraços e sonhos que a mão quase alcança… bom, se não rola contigo, aí o morto é você. Amor, sentirei no teus braços O mais lindo esplendor, Depois, seguiremos a estrada Não seremos só dois Administrando o choque, ainda meio bêbados com a música, que se estende, sem cortes, pensamos: não seremos só dois? Filhos? Ou quem sabe faz a hora, e estaremos, estávamos, estaríamos, caminhando e cantando, todos? Pois é, é sobre isso. Mas, não custa reforçar, cinema é imagem e som, e O Agente Secreto é uma festa. Cores, caras, corpos, cheiros, ruas, música e movimento. A magnífica fotografia, tão pernambucana, é da russa Evgenia Alexandrova — a artista finge tão completamente que finge ser cor local a cor que deveras sente no calor tropical. E a câmera de Kleber e Evgenia dança naquele redemoinho, tateando o mundo, rodopiando, indo atrás, indo na frente, correndo de um pro outro. Letra, imagem, música e ação. A jornada de um telegrama — secreto, mas prosaico, enviado pelo correio — vira um clipe de homenagem a Morricone, na hipnótica, quase militar, quase psicodélica Guerra e Pace, Pollo e Brace: https://open.spotify.com/track/4CikhurSvIAPkMF2o3LNEv?si=098f7dea73db4927. Repetida outras vezes, é um achado, bem ao estilo das incorporações cinéfilas surpreendentes e muito criativamente eficientes de Kleber. Nem precisamos sacar a brincadeira do título e letra — “na guerra e na paz, peça frango na brasa” — pra sentir, pelo encaixe perfeito da música no enredo e no clima de thriller da montagem da sequência: entusiasma, eletriza, mas é pra ter medo, se é só um telegrama comum? Tão eletrizante como a cena de perseguição final, essa ao inverso, evidentemente dramática, de tiros, vida e morte, mas a pé, entre os botecos do centro de Recife, animada por um discursador meio pregador popular aleatório, ao som pegado dos Pífanos de Caruaru (ok, a perseguição na estrada corcoveante de One battle after another, de Paul Thomas Anderson é legal, mas meu Oscar particular de melhor perseguição de 2025 goes to The Secret Agent). Em suas muitas ambivalências e tensões, naqueles anos 70 sensuais, vibrantes e transantes, é claro que O Agente Secreto, com todo seu embalo, não é um filme “good vibes”, com uma que outra cena bonita de drama romântico e outras de tensão pelo meio. Eu estou contando a história na ordem errada, como diz Marcelo quando se revela Armando. Omitir umas coisas é um jeito de contá-las, também. Guardemos essa ideia. Mas por hora, vamos rebobinar o filme, e perceber que ele é legal pra caramba também em suas (muitas) notas soturnas. A grua do início não é gratuitamente atraída, como um centro de gravidade, pelo corpo morto. A presença da morte puxa uma fila que não para de invadir o quadro — como aqueles meninos-aparição, de O som ao redor, mas agora com um peso maior, de presença que vai se fazendo constante, sufocando o sol, afogando em sangue — como a cachoeira da Casa Grande do cartaz do filme anterior — a luz daquela gente, com Marcelo (que é Armando) no centro. Do corpo abandonado aos policiais que podem ser folclóricos ou letais. Dali ao La Ursa, o urso carnavalesco que, ainda na estrada, se pendura na janela do Fusca em movimento, por tempo demais para uma brincadeira, se candidatando à versão pernambucana da galeria de monstros mascarados do terror. Na entrada de Recife, ainda embalados no melô de If you leave now, corta para o delegado Euclides, um delegado “clássico”, em interpretação memorável de Robério Diógenes, digno de um Pereio, mas com o palito e os óculos escuros substituídos por confete e um batom borrado na boca. É Carnaval. De novo: soturno ou hilário? A conversa de pé de ouvido com seus homens sugere que tem caroço no angu. Mas, mais importante e bem mais impactante, como narrar não é enfileirar ceninhas na cordinha da historinha, a dúvida é engolida por um enorme tubarão surrealistamente colocado sobre uma mesa em uma sala de aula. Ele, morto como o outro morto, também fede. Há algo de podre neste simpático balneário. Não é bem a fera concreta, pronta para devorar os banhistas sorrateiramente. Também não é exatamente como o segredo das águas poluídas que não deve ser revelado, como em Inimigo do Povo, peça de Ibsen para a qual o filme de Spielberg deu corpo, com uma enorme mandíbula. Aqui os corpos estão lá, estendidos no chão de terra do posto e na sala de aula. Aliás, não só o corpo do tubarão, e sua mandíbula filmada em detalhe, cheia de sangue e moscas, como uma perna humana, semi-devorada — é o reaparecimento dessa perna que os policiais parecem querer evitar. Como lidar com os corpos, entre vivos e mortos, lembrados e esquecidos? Tá lá a perna, na boca do tubarão. Até que a cientista responsável, pelo bem da clareza e precisão científica e legal, a arranque, com esforço, despejando litros de sangue fétido no chão e sobre si mesma. Os policiais preferiam que o Carnaval seguisse fervendo, que as pernas seguissem desaparecidas, e os tubarões seguissem nadando. O lado ensolarado é, como sempre no terror — esse é um filme de terror? acho que sim…-, pontuado pelas sombras, e elas logo (mas não tão rápido — calma aí para os velozes e furiosamente viciados nas correrias narrativas) cobrirão as promessas de felicidade. Muito mais carnaval que máquina narrativa, o filme vai costurando e modulando seu gingado, sua imaginação, medos e alegrias, como numa ampliação do exercício onírico de Fernando, o menino que, entre a falta da mãe, o abraço acolhedor dos avós e a saudade, a felicidade do reencontro e o pânico de perder de novo pai, navega lidando com o pesadelo do tubarão. Narrar é nos convidar pra entrar em águas assim, perigosas. Cabe a cada um mergulhar, ou não, nos sentidos e emoções. Só seguir os caminhos pré-fabricados dos twists é pra quem fica na beirinha, acovardado. A pérola do momento do pai e filho, reencontrados, no Fusca, lidando com a ausência da mãe, Fátima, a sinceridade dura, sóbria e amorosa de contar para o filho que mãe não vai voltar, que o que eles têm é a lembrança dela, e a presença um do outro, que a volta do pai recompõe, é daqueles momentos raros, de intensa emoção e nenhum sentimentalismo. A interpretação de Wagner Moura é um primor de minimalismo e precisão digna da performance de Romário dentro da área ou dos contos de Raymond Carver. Perfeita e cada inflexão de voz, cada pequeno gesto — o menino está no banco de trás, a câmera frontal (em cinema, direção de atores é também direção de câmera, e Kleber sabe o que faz). Isso é assim aqui e em todo o filme, nessa atuação histórica, que vai sendo reconhecida mundo afora. O Marcelo Armando de Wagner é contido, e em cada pequena modulação revela seus abismos. A preocupação que passa para a tensão, no posto de gasolina, até encontrar o tom exato para oferecer o cigarrinho ao policial. O sorriso de suave alívio na chegada ao Orf, que sobe um tom ao trocar olhares com Cláudia — e depois o sorriso aberto quando está com ela, e o pânico total acordando ao seu lado de seu pesadelo. A fúria controlada de quem diz, do vilão Ghirotti: “eu poderia matar ele com um martelo”, e toda a contenção, como uma mola tensionada, na conversa reveladora na qual conta sua história. Como o próprio filme, Armando é um mundo, do qual vemos alguns relances, que nos sugerem muito mais. Como um tubarão, que às vezes vem à tona. Por exemplo, da delicada cena da lembrança de Fátima, ouvindo o LP, passamos direto pra apresentação da dupla de matadores do filme, Augusto e Bob (Bobi?), que logo saberemos que são também quase uma família (meio família, meio associação criminosa), enteado e padrasto — ao que parece o padrasto, e agora chefe, matou a mãe e criou o menino. Música, suspense noturno, assassinato a sangue frio, crueldade, esconderijo, carros bacanas — a vida é um filme, ou é ao contrário? A bandidagem é uma atração à parte. Ou melhor, bem integrada. Porque pra todo lado tem bandido. Antes de Bobi Filho e Bobi Pai, já tínhamos o delegado Euclides e seus dois filhos, o branco, herdeiro natural da cafajestagem, e o negro, de criação (“painho”, diz ele, carinhosamente), todos policiais, e por consequência (fílmica, claro, exclusivamente fílmica) meio bandidos. O Agente Secreto também é drama familiar! E na forma da tradicional Família Brasileira que toma pra si as coisas que seriam públicas, da Pátria, se imaginando sob as bênçãos de algum Deus. Nesse espírito patriótico, o filme não se furta a mostrar como essa tradição não está só nos extratos mais humildes da bandidagem, alcançando as gentes mais finas e brancas — como se diz nas altas rodas, “só gente bonita”, ainda quando são feios. Como não admirar a simetria de composição entre a relação entre Bobi Pai & Bob Filho e Ghirotti — e seu também filho-quase-clone —, mandante do assassinato de Marcelo, com sua máscara de monstro quase tão evidente como do La Ursa da estrada (lembrando ainda Venceslau Pietro Petra, o Gigante de Macunaíma, também, como aquele outro, um brasileiro italiano monstruoso e comedor de gente), e, no outro par, o conluio entre Família de Painho Euclides com uma madame que ele protege do infortúnio de ter matado, por negligência, a filha da empregada, criando uma inacreditável delegacia/repartição pública semi-secreta e semi-falsa. É lá que Euclides, ex-coronel, atual “doutor”, cruza com Marcelo, recém-chegado na repartição de serviços de identidade (logo ele que é Armando) pelas mãos de uma rede de proteção, não sabemos bem do que — de modo geral, da Ditadura, subentende-se, claro. A celebração da tradição rola no encontro noturno no camburão das duas famiglias de homens bandidos. Todos reunidos pra um “passeio”, o último, de uns presos que eles consideram indesejáveis. Que beleza a alegria do reencontro dos pais de famílias assassinos, que já mataram muito juntos, e agora passam aos seus filhos o seu legado. O contraponto vem da boca rebelde de uma mulher. Fátima, a moça das fotos, com quem Marcelo Armando sonhava arranjar uma casa na beira do mar, com coqueiros, volta dos mortos, num flashback. Ghirotti, sucessor do Gigante Pietro Pietra, “consultor” da Eletrobrás, representante do braço industrial da milagrosa ditadura cívico-militar, faz, em 1974, uma visita-intervenção ao Depto. de Engenharia Elétrica da UFPE, do qual Armando e Fátima são professores. Seu objetivo é acabar com o departamento, em especial com uma pesquisa de Armando, de uma bateria para carros elétricos, que atrapalha o negócio que ele já fechou, em nome da Eletrobrás, com uma empresa canadense e, claro, em sociedade com sua própria empresa. Ghirotti Pai e Ghirotti Filho, que o acompanha em mais uma bela versão do patriarcado pátrio, são, pra dizer de modo direto, sebosamente nojentos. Racistas, esnobes, sempre com um sorriso e gestos de desdém, risinhos que lembram kkkks de redes sociais de 50 anos depois de sua (nem tão) ficcional existência. Eles são também poderosos, a ponto de exibir seu escárnio abertamente e acabar com pesquisas em princípio públicas. Fátima, negra, nordestina e professora da UFPE — o que parece um tanto insuportável aos Ghirotti — põe o dedo na cara dos paulistas que se acreditam italianos. Mas o que diz é mais forte, desprezando a indignidade de Ghirotti como homem e como pai, em contraste com a hombridade de Armando, ali presente, e de seu próprio pai, Alexandre, que ela reverencia como homem, pai e trabalhador. O Agente Secreto também é drama moral. Mas antes de trazer a júri, moral e estético, o seboso Ghirotti, um destaque para Seu Alexandre, pai de Fátima, avô e pai de criação de Fernando e projecionista do Cine São Luiz. Logo depois da briga em flashback, voltamos a 77, quando Armando relata o ocorrido a Elza, cabeça da tal rede de proteção a perseguidos. Seu Alexandre está ao lado dele. Contendo a emoção – de novo, sem sentimentalismo – ele pergunta se a filha morta falou mesmo dele naqueles termos. O genro confirma, e ele engole em seco. E é só, e tudo isso. Seu Alexandre é a dignidade encarnada. No cuidado com o neto, na relação com o genro, na coragem de recebê-lo em seu trabalho, seu Alexandre talvez seja a joia da coroa popular de O Agente Secreto: a enorme, pulsante, viva, massa de rostos e corpos brasileiros que enche a tela. O filme — de época, ou seja, caro e difícil em cada detalhe — não poupa esforços pra nos fazer mergulhar nessa massa. São casas, ruas, botecos, galerias, correios, esquinas, cinemas, no trabalho e no carnaval, um mundo aberto, cheio, lotado de gente. Gente nossa, com cor, textura, gestos e olhares da gente. A gente olha e se vê. Olha e é olhado. E isso, minha gente, não tem preço. Se o cinema não servir pra nos imprimir nos fotogramas, serve pra que? Todas as referências, todas as ideias cinematográficas, todas as histórias, estão escritas nessas carnes, com esse sangue. E é isso que Fátima, mulher porreta, diz pra Ghirotti, que, como os motoqueiros de Bacurau, tem orgulho de não ser desses, de são ser daqui, de ser da Itália: Seu Ghirotti Alexandre, aquilo é homem. Brasileiro. E então, Ghirotti, o seboso. E com ele entramos na política, já que é ele o pivô da trama. Houve quem reclamasse do exagero de centrar o conflito de fundo numa perseguição a um projeto de pesquisa, e num personagem “esquemático”. Pra começo de conversa, que loucura inverossímil imaginar, hoje, no Brasil, a existência de personagens esquemáticos, toscos, sem profundidade psicológica, seres unidimensionais que só vivem para seus objetivos mesquinhos de poder e pequenas (ou nem tanto) corrupções. Né? Tem que ver isso daí no tocante disso daí, talkey!? Que triste a pobreza da dramaturgia pátria. Cada vez que um homem de bem clama por profundidade psicológica de personagens de direita, morre afogado um anjinho liberal na parte funda da piscina da história. Além disso, que lamentáveis são os personagens da Commedia dell´Arte e de Rabelais, os burgueses de Dickens, os vilões de Chaplin, o Diaz de Glauber Rocha e o já tristemente lembrado Venceslau Pietro Pietra, de Mário e de Joaquim Pedro… Que lembremos sempre que o que explica Kane, o magnata que manipula a nação, é Rosebud, seu delicado trenó da infância perdida, e que Santa Odete Roitman nos salve de tanta falta de sutileza desses narradores esquerdistas e seus vilanizados personagens burgueses, tão brutais e grosseirões. Mas deixando de lado a figuração alegórica dos podres poderes do mundo, reverso do idílio do Edifício Orf, no quadro do passado entrevisto e reconstituído por seus fragmentos, vejamos as coisas sob o ângulo da objetividade sócio-política: que impropriedade imaginar um empresário que estabelece relações com o poder público para fazer negócios privados! Alguém tem que avisar o Tarcísio de Freitas que o Kleber Mendonça está lhe plagiando! Ok, chega de ironias políticas. Vamos nos concentrar na representação da ditadura em O Agente Secreto. Não há militares — só dois ex, agora trabalhando no ramo da segurança, um como delegado, outro como freelancer. Enfim, Esquadrões da Morte. Mas militares, não. E toda a complexidade do Estado desenvolvimentista da Ditadura, da modernização conservadora, industrializante e concentratória, neocolonial e sudestina, tudo reduzido à figura de Ghirotti, o empresário que age nos vãos, que ocupa um cargo da Eletrobrás pra se beneficiar com informações e contratos, que esvazia a autonomia regional, desmantelando um centro de pesquisa em Recife — aliás, cidade-sede da Sudene do sonho de Celso Furtado —, capaz de perseguir pessoalmente quem o enfrenta, capaz de mandar matar um casal de pesquisadores que sabia de seus cambalachos, o que se torna especialmente perigoso no contexto do início do que viria a ser a Abertura. Ainda um pouco de cinema, para lembrarmos de alguns antecessores de Ghirotti: Fuentes, de Terra em Transe, concentra toda a burguesia de Eldorado. De modo mais realista, Arturo, o empresário de autopeças de São Paulo S/A se beneficiava de contratos escusos e de sonegação para se afirmar como fornecedor de uma montadora estrangeira. E numa chave contemporânea, com um pé no realismo e outro em tons expressionistas, há a dupla de engenheiros corruptores de O Invasor que mandam matar seu sócio por ganância e receio de denúncia. A representação da situação política autoritária pelo viés dos interesses, reduzidos brutalmente à brutalidade, ao osso, dente, sangue, perna arrancada e tiro na cabeça, isso não é materialismo, não? Suspeito que Brecht chamaria de realismo. No Recife de O Agente Secreto, a Ditadura está no ar, na perna arrancada pelo tubarão, roubada e jogada de novo no mar, nos passeios e na meta de cem mortos do carnaval do Dr. Euclides, na madame assassina protegida, no assassino que faz serviço de bicho e mata à luz do meio dia, nos negócios dos Ghirotti, na morte misteriosa de Fátima, no heroísmo discreto de Seu Alexandre e D. Sabastiana, como se tudo fosse um pesadelo de Fernando (herança do pesadelo de seu pai, que junta matadores, mortos e urso de carnaval) — que vai acabar esquecendo de tudo isso. E nós, esquecemos? De Terra em Transe a Ainda estou aqui, muitas e muitas vezes o cinema brasileiro nos contou sobre essa noite e neblina, como Resnais chamou o seu filme de rememoração dos campos de concentração. E levemos a sério nossos inimigos, porque se a cada vez que um filme forte sobre a Ditadura aparece, a direita se enfurece, é porque essas escavações atrapalham a mitologização canalha dos herdeiros de Ghirotti e Euclides. Talvez o maior desses filmes seja Cabra Marcado para Morrer, do Coutinho. Num texto, sensacional desde o título — O fio da meada — sobre o filme, Roberto Schwarz diz uma coisa muito inteligente sobre sua parte final, de entrevistas com os filhos de João Pedro e Elizabeth Teixeira. Pessoas desarticuladas, frágeis e chorosas por suas dores de um jeito autocentrado, muito diferente da altivez de sua incrível mãe — que, aliás, em 2025 completou cem anos, e de quem D. Sebastiana e Seu Alexandre poderiam ser amigos. Sobre os filhos, Schwarz, escrevendo em cima do lançamento do documentário, em 1984, diz que nosso entendimento sobre eles vai depender da consciência histórica que prevalecer no Brasil. Se a ditadura for esquecida, as entrevistas parecerão um chororô sensacionalista. Se, ao contrário, se firmar com clareza a consciência de interrupção de construção popular de uma nação, aquele choro terá peso histórico. O Agente Secreto toma suas providências para tratar da Ditadura. Porque, afinal, me repetindo, mas História é assim mesmo: é sobre isso. Armando morre. E isso já é acachapante, como final. E morre off, como nas tragédias gregas. Tudo que temos, sobre essa gente “pré-google”, como diz a bolsista que faz a transcrição das fitas do passado, é uma foto de jornal, com Armando morto a tiros. E algumas conversas, gravadas por Elza, que na verdade é Sara, a articuladora de uma pouco clara organização de apoio aos “refugiados”, como se chamam os moradores do Edifício Orf, que mudam seus nomes e, apesar da fraternidade que os une, pouco ou nada sabem uns dos outros. O clima idílico vai se misturando com o baixo contínuo do terror, ao mesmo tempo evidente como um tubarão no meio da sala (de aula) e enganador como o do filme – o outro, gringo. Até que, só na conversa com Elza, finalmente sabemos a história de Armando, Fátima e Ghirotti, acrescentado a nova informação de que o empresário pôs os dois matadores no encalço do protagonista e que ele tem que fugir do país. Sendo Ghirotti a cara da Ditadura no filme, cabe perguntar: e os milicos? Pois é, não estão (só os assassinos pé rapados). E em parte vem daí o efeito tubarão, o clima de que a violência pode vir de qualquer lugar, a qualquer momento. A Ditadura não é monopólio dos milicos. Está no ar, como o cheiro de carniça. Abrindo o quadro: só quase na metade do filme sabemos do confronto entre Armando e Ghirotti. Até então, desrespeitando as pretensas regras de roteiro, várias dúvidas pairam: por que Armando se passa por Marcelo? Se ele é de Recife, por que e pra onde fugiu? E, mesmo depois que as coisas começam a ficar mais claras, por que Ghirotti contratou matadores? O que temos é um clima de paranoia, unindo de modo geral os monstros e os que querem viver — como diz Armando, quando se sabe jurado de morte, e como pulsa no filme o tempo todo, explodindo na cena de carnaval, pegando Armando e a nós de surpresa, quando ele sai, temeroso, da casa de seu Alexandre. O Agente Secreto é road movie, drama familiar, musical, filme de suspense, e é assim, sem personagens e motivações definidas explicitamente como políticas, que ele é um filme sobre a ditadura. Ghirottii não é Ustra, Armando não é um Marighella (ainda que Wagner Moura tenha posto Marighella nas telas), e o motivo da volta dele a Recife é Fernando, seu filho assombrado por tubarões. O que há propriamente de repressão é a fúria da Perna Cabeluda, que fora perna de algum desafeto do delegado ou de seus amigos, e volta, digamos perneta, dos mortos, possuída de fúria repressiva e conservadora, atacando os gays da cidade e garantindo que a moral e os bons costumes impeçam qualquer subversão nos jornais das famílias recifenses (afinal, essa era a principal função da Perna Cabeluda, aliciada do Folclore pela Ditadura e posta para trabalhar cobrindo os cortes de jornal censurados — um versão mais divertida das receitas de bolo que jornais do Sul utilizavam para explicitar o silenciamento de suas matérias). É o momento gore e “terrir”, como chama o brilhantemente debochado Ivan Cardoso, de um filme que, através de toda sua profusão de fontes e matérias históricas, é um filme de terror, com alta carga política, sem o ser explicitamente. Em toda a primeira parte, antes da conversa com Elza, esse terror ronda, sem nome, podendo se encarnar em tudo e todos, como o Mal em O bebê de Rosemary. A partir daí, o tubarão ataca. Ameaçado de morte, com o tempo correndo para sua fuga, Armando tentará enfrentar os monstros, mas acabará morto, como a mãe de Fernando, que é o sobrevivente. Mas sequer é através de Fernando — de certo modo equivalente aos filhos de D. Elizabeth, de Cabra para Morrer — que conhecemos a história de Armando e Fátima. A moldura narrativa é um presente desvitalizado e desmobilizado, no qual a violência da Ditadura é ainda “delicada” (as fitas são recolhidas), ou seja, intocável em seus fantasmas, de vítimas e algozes. A memória é clandestina, como o pen drive que Flávia — a jovem pesquisadora negra, moradora de periferia, com avô pernambucano e um filho pequeno e um companheiro, ecoando a dignidade da história que descobriu — pirateia das fitas gravadas por Armando e seus companheiros, e entrega a um Fernando já maduro, menos estrangeiro no lugar que no momento, em um banco de sangue, versão contemporânea e domesticada do sangue que escorre da tela dos anos 70 — mesmo lugar onde, na infância aterrorizada, ele assistiu Tubarão, com seu avô Alexandre. Sua história, aplacada num presente que, em suas cores pálidas e baixa intensidade, da qual ele mesmo parece preferir não saber, nos é dada a conhecer cheia de buracos. Buracos de bala de História, para frustração de quem preferia uma história ao estilo dos clássicos tubarões mecânicos do cinema americano. Pelo que sabemos, podemos — o filme nos interpela, nos convida a — imaginar e preencher as lacunas: Armando bateu de frente com Ghirotti, o acusou de agir em benefício próprio, devido ao contrato por ele estabelecido com a empresa canadense de carro elétrico, sob as bênçãos empresariais da Eletrobrás. A disputa explosiva levou à dissolução do Departamento de Engenharia Elétrica da UFPE e, ainda que não seja claramente dito, parece ter levado também à morte de Fátima. Quando Elza diz que Ghirotti é um assassino, a qual assassinato ela se refere? E por que o pacato Armando se declara capaz de matar Ghirotti com um martelo? Em 74, depois deste confronto pesado, Armando — detentor de uma inconveniente patente e chefe de departamento “cabeludo e comunista”, como diz o empresário “lesa pátria e assassino”, resume Elza — foge, temendo ser morto não pela repressão política, mas pela violência de interesses privados de costas quentes. Três anos depois, a situação política já permite a ele, via uma rede de solidariedade, arriscar um retorno, para pegar o filho. O silenciamento de Armando, com um simbólico tiro na boca, parece ser um bom arremate de negócio para Ghirotti, que se vale de antigos colaboradores, de “outras batalhas”, ex-militares, agora trabalhando para a livre iniciativa. E assim é feito. O passado vem à tona por evocação, aos pedaços, como uma perna arrancada, de uma história que não é nem do heroísmo de combate — da guerrilha, movimentos ou jornalismo -, nem da repressão sistemática ligada à cúpula militar. Mas a Ditadura está por toda parte, atropelando vidas e projetos, em prol dos canalhas que constituem sua rede de aliados. Tudo isso, e certamente muito mais, está neste filme legal pra caramba, crônica e thriller, de suspense, de amor, de ação, de terror. Um filme político, mas sem guerrilheiros, nem generais. De época, e também de hoje. De memórias perdidas e silêncios, de quem está sob ameaça mas está vivo e quer viver, como diz Armando, para os refugiados, e em especial para Cláudia. Daquela gente brasileira toda, que enchia e enche as ruas de Recife e de todas as nossas cidades. A história dos que vivem cercados de tubarões, história esburacada, história de Fátima, de Armando, minha, sua, de todos nós, que tantas vezes nos sentimos agentes secretos em nosso próprio país, perseguidos por redes obscuras, conspirando com nossos camaradas, para sobrevivermos, e quem sabe, um dia, arranjarmos uma casa com coqueiros na beira do mar, pra tudo mundo. | A A |
| OUTRAS PALAVRAS |
Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |
| OUTRAS PALAVRAS |
Portal Membro desde 13/12/2024 Segmento: Notícias Premiações: |
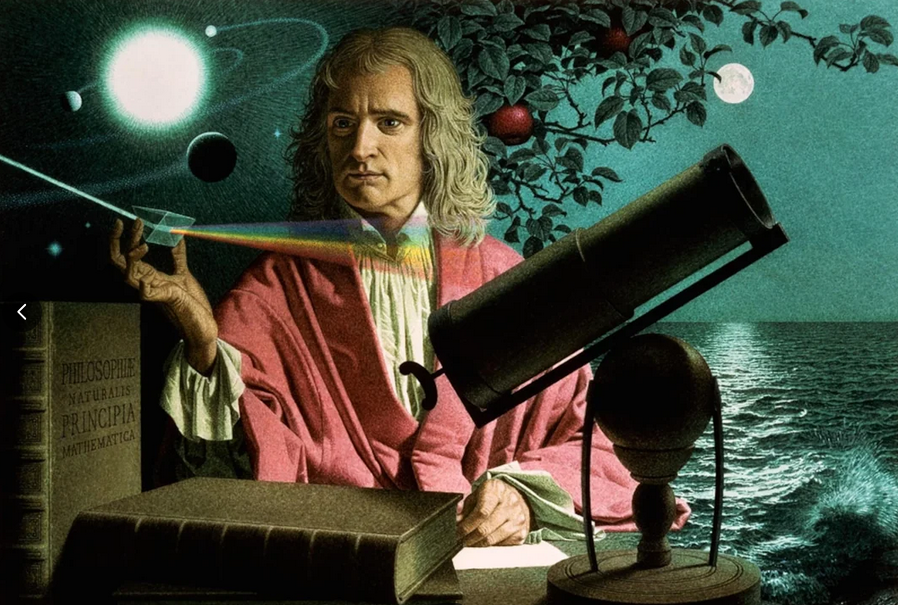

Comentários
Postar um comentário